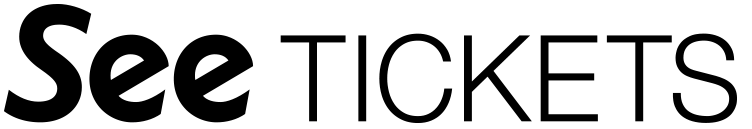Taylor Swift: ícone, anti-heroína e mulher de negócios
Taylor Swift já era muitas coisas, desde a mais nova assinada pela Sony, a mulher mais ouvida de sempre no Spotify, plataforma de onde apagou a discografia antes da chegada de 1989 em 2014 – um dos vários casos de antes e depois na sua obra, embora longe de ser o único. Faltava-lhe apenas aquilo que os números não depositam: respeito e credibilidade, valores cada vez mais diluídos na digitália das métricas. Inteligentemente, soube ler onde estava a lacuna do império pop. E depois de ter trabalho com inúmeros produtores de primeira liga, como Calvin Harris e Jack Antonoff, trouxe mais um par de mãos para juntar a este último: Aaron, um dos irmãos Dessner dos The National, uma das mais reputadas bandas junto da crítica e círculos melómanos.
Taylor Swift, uma artista country de génese, que se mudou para Nashville, Tennessee, inspirada por Faith Hill, Shania Twain, as Dixie Chicks e Dolly Parton, aceitou aos 31 anos revestir as suas cançōes com uma roupa mais adulta e consentânea com a natural passagem do tempo. A country tradicional aceitou a alternativa e deu-se bem. Há líderes e seguidores, defendia Kanye West, um dos seus maiores detractores, quando interrompeu o discurso vitorioso do Video Music Award da MTV, para defender Beyoncé. Taylor Swift usou o poder comunicacional ao dispor para dizer aos seguidores que tinha mudado de pele, apesar de ser a mesma. Folklore e Evermore, o díptico de 2020, foi um risco. Como Achtung Baby dos U2, OK Computer e Kid A dos Radiohead, Reflektor dos Arcade Fire, ou Yeezus de Kanye West. Diz-se que a história protege os audazes e no caso de Taylor, a razão estava do seu lado.
A country republicana, dos estádios americanos, casada com a country dos festivais europeus? Mais ou menos isso. Folklore foi o álbum mais vendido nos EUA em 2020 e venceu o Grammy de Álbum do Ano. Taylor Swift foi também a artista solo mais lucrativa, quer no seu país, quer globalmente.
Popular, influente e poderosa sim, mas não necessariamente unânime ou esquiva a polémicas. Além do conflito público espoletado por Kanye West, além do braço de ferro com o Spotify e mais tarde o Apple Music, pela justa distribuição de direitos, haveria uma batalha mais exaustiva. Depois de lhe ter sido negado o acesso aos masters dos álbuns gravados para a Big Machine, companhia adquirida por Scooter Braun (manager de Justin Bieber e Kanye West, entre outros), a Scott Borchetta, a primeira figura da indústria a investir nela, o obstáculo foi contornado com uma mudança de direcção: regravar esse catálogo. Primeiro com Fearless, depois com Red e recentemente com Speak Now.
Pelo meio, Midnights e mais recordes. Em menos de três semanas, 1,3 mil milhões de streams no Spotify. Anti-hero e Lavander Haze tornaram-se, respetivamente, as terceira e quarta cançōes mais ouvidas em 24 horas na história da plataforma. E Taylor Swift tornou-se a primeira a ocupar integralmente o top 10 dos EUA só com cançōes de um álbum, o maior êxito desde 25, de Adele, em 2015.
Após isto, e depois de o concerto no NOS Alive, em 2020, ter ficado sem efeito, não espanta a corrida aos bilhetes para a estreia em Portugal a 24 e 25 de maio de 2024 no Estádio da Luz. E quantas mais noites houvesse, mais bilhetes seriam vendidos – talvez o recorde dos Coldplay pudesse ser pulverizado. Mas o que ajuda a explicar a grandeza de Taylor Swift é também a sua humanidade, de pagar operaçōes dispendiosas a fãs, a fazer doaçōes para organizaçōes LGBT, apoiar Joe Biden e Kamala Harris, ou ser embaixadora do Record Store Day, em prol das lojas independentes de discos.
É sempre a mesma Taylor Swift, natural da pequena cidade de West Reading, a escrever a sua história em diferentes papéis.