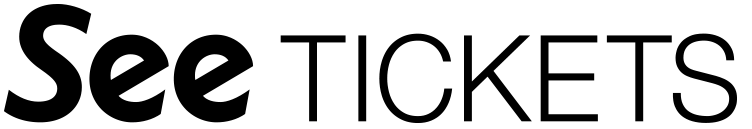Onde se escondeu o sol?
Um pouco de história nunca fez mal a ninguém. Dissecar o passado é mandatório para compreender o presente. A história do reggae em Portugal é recente e breve. No boom do rock português, na madrugada dos anos 80, bandas como os Táxi, inspirados pelos Police, bebiam do tchaka-tchaka através da new wave. A Portugal, chegavam Bob Marley e Peter Tosh mas a Jamaica era longe demais. Os portuenses não eram caso único. Via Clash, os Peste & Sida documentavam casos crónicos e famílias em stress através do reggae. O máxi Reggae Sida, de 1989, é um objecto iconográfico e um marco que entendedores entenderão. O refrão dizia “Eu vou p’ra Jamaica, eu vou, eu vou”. A travessia podia começar logo ali debaixo do Sol da Caparica.
Mas reggae, reggae mesmo, de consciência, rasta e broca, foi a estreia dos Kussondulola em 1995 com Tá-se Bem, editado pela Valentim de Carvalho, e do qual faziam parte singles históricos como Dançam no Huambo (o famoso Pim-Pam-Pum) e Perigosa (“Senhor Comandante, Ela é Perigosa”). É o primeiro álbum de reggae na história da música portuguesa, o que diz bem do valor histórico, mas não se pode dizer que tenha gerado um movimento ou descendência. Sim, é verdade que a partir daí deixou de ser um corpo estranho mas nem os Kussondulola deixaram de ser uma ilha, nem o reggae se credibilizou perante a indústria. Continuou a viver na sua marginalidade genética, entre concertos de Janelo e a sua trupe pelo país, algumas festas em polos localizados, a sul do Tejo ou na Linha.
Quando os mestiços alemães Patrice e Gentleman invadiram o novel circuito de festivais alguns anos mais tarde, o sol desceu sobre a costa. E de repente, o reggae pareceu um vulcão acordado, com festivais como o Musa, palcos e nomes em festivais como Sudoeste, Ericeira e Sagres. O abalo na música portuguesa sentiu-se. Famílias musicais de rasta como a One Love Family e o Mercado Negro (do ex-Kussondulola, Messias) tiveram editoras e palcos, assim como o angolano Prince Wadada ou os portuenses Souls of Fire. Colectivos como Terrakota fizeram do reggae um dos motores primários e outros como Expensive Soul ou Mundo Secreto usaram-no como matéria-prima. Na Antena 3, programas como a Rádio Fazuma escavaram a cultura até aos dubplates mais obscuros.
Porém, a era do reggae-pop, assente em patrocínios e expressōes musicais nem sempre conectadas com as raízes, foi insuficiente para o sedimentar. Assim que a temperatura arrefeceu, o reggae voltou a desaparecer do mapa. Restaram os fiéis, como sempre acontece e…Richie Campbell, aquele que é provavelmente o maior vulto de coração reggae em Portugal.
Filho de uma inglesa, cresceu a ouvir 7’’ de Tarrus Riley e Susan Cadogan. Cresceu na linha, onde o reggae sempre teve maior implantação em Portugal, quer pelo contacto com o mar, quer pela relação com culturas como as dos desportos aquáticos. E provavelmente pela predominância de ingleses na Linha. É que sendo a Jamaica uma antiga colónia inglesa, o Reino Unido está para o reggae (e degeneraçōes como o dub), como Portugal para a kizomba, a morna, o kuduro ou o semba.
Richie Campbell acabou por construir uma frente activa, através da Bridgetown, mas quer a editora, quer o seu percurso a solo acabam por retratar a diluição do reggae noutras linguagens como o dancehall, ou o afro-pop, hoje muitas queridas pelo romance com os EUA, sobretudo com o hip-hop e o r&b. Enquanto o reggae recolheu aos aposentos e quase desapareceu do mapa, estas correntes sim viraram maré. Em clubes e festivais, no YouTube e em streaming. Será o reggae um sol posto?